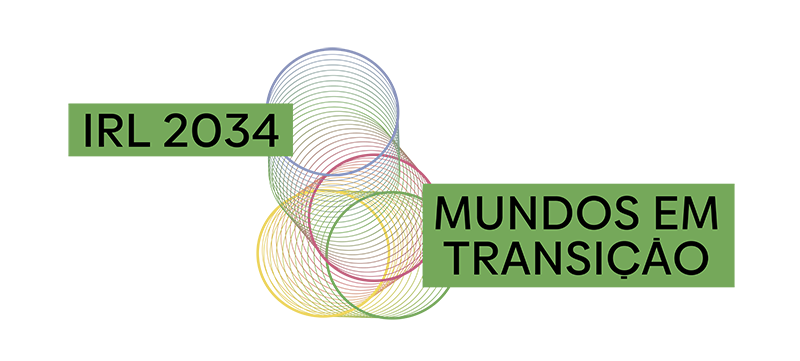
Transições ambientais na era do Antropoceno
Coordenação: Fabrice Bardet e Guilherme Moura Fagundes
Desde que a questão ambiental se tornou um problema público no final da década de 1960, as ciências humanas e sociais têm se mobilizado para estudar os agentes e as forças transformadoras, hoje chamada de transição ou bifurcação. O contexto do Antropoceno e a urgência ambiental que o caracteriza renovam os questionamentos. Devido à magnitude e urgência das mudanças ambientais globais, todas as agendas sociais estão sendo recompostas, não apenas as dos responsáveis políticos ou econômicos, mas também as dos pesquisadores e pesquisadoras das ciências humanas e sociais, que estão desenvolvendo seus objetos, campos, questões de pesquisa e métodos. Esse contexto exige reflexões transversais que abordem tanto as áreas rurais quanto urbanas e as relações e trocas entre elas, assim como os diferentes atores e setores econômicos. Requer a mobilização cruzada de conhecimentos de diversas disciplinas, como economia, sociologia, ciência política, geografia, direito, ecologia, história, antropologia, filosofia…
A análise das políticas ambientais inicialmente permitiu descrever a difícil institucionalização do setor de ação ambiental em nível nacional. Com a contestação dos poderes públicos e a liberalização das economias, as formas de ação pública foram reorientadas para novos modelos onde atores privados desempenham um papel central no financiamento, implementação ou regulação dos programas de ação: a criação de mercados de créditos de carbono de poluição (“direito de poluir”), a reforma dos instrumentos de contabilidade empresarial com a integração de indicadores ESG (ambiental, social, governança), o desenvolvimento de mercados de finanças verdes, etc. De fato, os instrumentos das políticas públicas são hoje variados. Por um lado, concentram-se no comportamento dos agentes e baseiam-se no uso de instituições e normas jurídicas (normas obrigatórias ou incentivadoras; responsabilidade; propriedade). Por outro lado, exigem novos sistemas de tomada de decisão coletiva participativa, que valorizam aspectos como os conhecimentos tradicionais de diferentes grupos sociais ou a abertura ao diálogo com a ciência. Por outro lado, exigem novos sistemas de tomada de decisão coletiva participativa, que valorizam aspectos como os conhecimentos tradicionais de diferentes grupos sociais ou a abertura ao diálogo com a ciência.
Os esforços para elaborar respostas adequadas a esse desafio também são condicionados pelas ações de atores e grupos sociais e profissionais-chave, como juízes, classes médias emergentes, setores de atividade e o setor financeiro, que estimulam ou retardam os progressos na elaboração de respostas adequadas aos problemas ambientais.
No centro dessas políticas que visam incitar ou regular a transição está a questão das ferramentas de mensuração: quais são os “números corretos” para as futuras políticas de transição? Como podemos medir a transição, quais ferramentas, quais métodos, quais limites? Por trás dessa questão aparentemente simples, uma linha de debate crucial surge: como conciliar os objetivos de sustentabilidade, que exigem uma contabilidade de longo prazo, com os objetivos de rentabilidade financeira, que impõem uma perspectiva de curto prazo? Comment pouvons-nous mesurer la transition, quels outils, quelles méthodes, quelles limites ? Por trás dessa questão aparentemente simples, uma linha de debate crucial surge: como conciliar os objetivos de sustentabilidade, que exigem uma contabilidade de longo prazo, com os objetivos de rentabilidade financeira, que impõem uma perspectiva de curto prazo?
Essa linha de pesquisa pode ser aplicada a todos os setores da ação pública e da sociedade: indústria e serviços econômicos, planejamento urbano e territorial, setores de ação social ou proteção ambiental.
Ela exige a consideração da dimensão histórica das políticas e “transições” ambientais. Por exemplo, não se pode entender as ambiguidades da gestão florestal no Brasil sem retornar a 500 anos de políticas e gestão dos espaços florestais. Por exemplo, não se pode entender as ambiguidades da gestão florestal no Brasil sem retornar a 500 anos de políticas e gestão dos espaços florestais.
A comparação entre França e Brasil é ainda mais interessante, pois não são as mesmas questões ambientais que estão em destaque nos dois países. Por exemplo, a questão (da transição) energética e das emissões de CO2, ou a impermeabilização dos solos, são estruturantes na França, enquanto no Brasil a desmatamento ou a agricultura familiar/agroindústria estão no centro dos debates atuais. Além das políticas setoriais, as estruturas de financiamento das políticas de transição também são muito distintas e suscetíveis de serem analisadas: o mercado europeu de carbono, hoje amplamente questionado, de um lado, e do outro, a vontade de refundar os circuitos financeiros internacionais, ou as bolsas de valores de Paris ou São Paulo, que buscam se posicionar entre as maiores do mundo, reivindicando de maneiras diferentes rótulos de distinção em matéria ecológica ou ética. Além das políticas setoriais, as estruturas de financiamento das políticas de transição também são muito distintas e suscetíveis de serem analisadas: o mercado europeu de carbono, hoje amplamente questionado, de um lado, e do outro, a vontade de refundar os circuitos financeiros internacionais, ou as bolsas de valores de Paris ou São Paulo, que buscam se posicionar entre as maiores do mundo, reivindicando de maneiras diferentes rótulos de distinção em matéria ecológica ou ética.
Assim, “Mundos em Transição” fornecerá, no âmbito do eixo 5, um espaço para pensar tanto os atores (jogos de poder, coalizões, mobilizações, papel do juiz) quanto os instrumentos econômicos e jurídicos (como a política se constrói por meio do direito) e os circuitos de financiamento da transição ambiental em curso. As pesquisas também se interessarão pelos fundamentos das políticas ambientais: as fontes da propriedade e a propriedade em tempos de transição; as liberdades fundamentais; a relação com o meio ambiente e, além disso, com o ser vivo. Incluindo a filosofia e, mais amplamente, as humanidades ambientais, o projeto também convida à reflexão sobre as ontologias políticas e a necessidade de superar uma visão ocidental, baseada no dualismo natureza/cultura, e renovar as abordagens integrando as ontologias políticas indígenas, mas também afrodescendentes ou camponesas. Ele permitirá questionar a habitabilidade do planeta e relançar a reflexão epistemológica fundamental das ciências humanas na era da transição “antropocênica” e da nova emergência das ciências da vida, a partir das quais as hibridizações são mobilizadas. O campo acadêmico brasileiro das ciências humanas e sociais, mais do que em outros países, alimentado por sua escola antropológica de forte herança estruturalista, constitui, desse ponto de vista, um terreno privilegiado a partir do qual conduzir o trabalho de uma possível refundação. As pesquisas também se interessarão pelos fundamentos das políticas ambientais: as fontes da propriedade e a propriedade em tempos de transição; as liberdades fundamentais; a relação com o meio ambiente e, além disso, com o ser vivo. Incluindo a filosofia e, mais amplamente, as humanidades ambientais, o projeto também convida à reflexão sobre as ontologias políticas e a necessidade de superar uma visão ocidental, baseada no dualismo natureza/cultura, e renovar as abordagens integrando as ontologias políticas indígenas, mas também afrodescendentes ou camponesas. Ele permitirá questionar a habitabilidade do planeta e relançar a reflexão epistemológica fundamental das ciências humanas na era da transição “antropocênica” e da nova emergência das ciências da vida, a partir das quais as hibridizações são mobilizadas. O campo acadêmico brasileiro das ciências humanas e sociais, mais do que em outros países, alimentado por sua escola antropológica de forte herança estruturalista, constitui, desse ponto de vista, um terreno privilegiado a partir do qual conduzir o trabalho de uma possível refundação.
A Guiana Francesa se apresenta como um possível campo de comparações com a Amazônia brasileira e, além disso, em uma abordagem mais amplamente pan-amazônica.Entre os “hot spots” de biodiversidade em nível mundial, graças a biomas ricos, variados e à presença de inúmeras espécies endêmicas (Amazônia, Cerrado…), essenciais para o equilíbrio do sistema climático global, o Brasil também está na linha de frente quanto às consequências das mudanças climáticas (seca crescente, inundações…). La Guyane française se présente comme un terrain possible de comparaisons avec l’Amazonie brésilienne et au-delà dans une approche plus globalement pan-amazonienne.
En lien avec les axes 1, 2, 3 et 4, les projets de recherche développés dans le cadre de l’axe 5 pourront porter sur des questions de recherche transversales et générales : forces et agents des transitions (gouvernement, secteur privé notamment agrobusiness, systèmes financiers, justice…), forces régressives (lobbies par exemple) et forces motrices (exemple du mouvement de la Marche des Margaridas, du MST, des associations pour la reconnaissance légale des terres communes, nouvelles formes de mobilisation, procès climatiques, etc.), chiffres et outils de chiffrage de la transition environnementale, efficacité ou renouvellement des outils des politiques environnementales (normes contraignantes ou incitatives, outils économiques, financiarisation, planification…), réflexion sur les ontologies politiques et leur renouvellement. Ces questions seront traitées et nourries par des recherches interdisciplinaires empiriques sur des objets/domaines de recherche déterminés : villes, forêt, climat et transition énergétique, solutions fondées sur la nature, biodiversité, systèmes agroalimentaires, océans.
Vejam os outros temas do nosso projeto cientifico:
