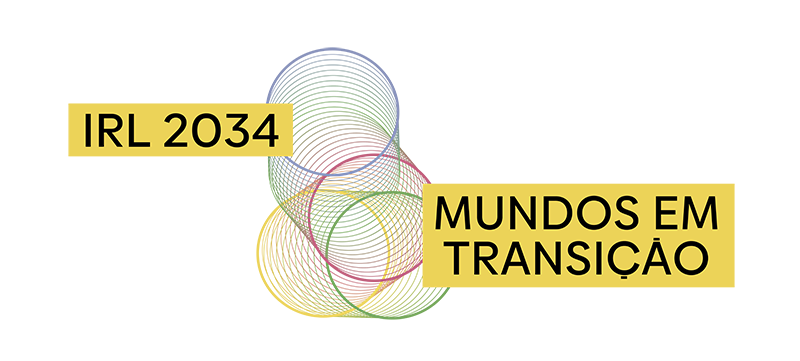
Circulações, mobilidades e espaços transnacionais
Coordenação: Stefania Capone e Laura Moutinho
Buscando ultrapassar as abordagens locais ou nacionais na construção de políticas públicas, sistemas jurídicos ou movimentos artísticos, as pesquisas conduzidas neste eixo terão como interesse as circulações transnacionais em um sentido muito amplo, incluindo tanto as circulações de pessoas, sejam elas forçadas ou escolhidas (trabalhadores migrantes, refugiados, incluindo os climáticos, mas também elites econômicas ou intelectuais, artistas…), os bens, ideias, valores, conceitos jurídicos, práticas religiosas ou culturais, ou ainda dados, conforme as épocas e as circulações que as caracterizam ou que delas fazem exceção. Elas se interessarão tanto pelo objeto dessas circulações, quanto pelos vetores ou suportes (transporte, rotas, redes, digital), pelos obstáculos ou bloqueios enfrentados (políticas migratórias, fronteiras, muros, obstáculos jurídicos…). As pesquisas se concentrarão, sem se resumir a isso, nas relações entre o Brasil e a França. De fato, não se pode esquecer ou invisibilizar dinâmicas circulatórias mais complexas, multinacionais ou transnacionais, envolvendo outros países da Europa (Portugal, em particular), mas também da América, África e Ásia. Tendo como foco evidenciar o caráter multidimensional das circulações, as pesquisas poderão, claro, interessar-se também por outras vias ou espaços de circulação, incluindo dentro do Brasil (corredor bi-oceânico, o êxodo rural e os processos de metropolização) e além (até a “investigação global”). A evidência das circulações Sul-Sul abre, em particular, novas perspectivas espaço-temporais.
Para valorizar e qualificar as evoluções, transições e rupturas nesse campo, as pesquisas se concentrarão no período contemporâneo, mas levarão em conta a profundidade histórica. A unidade da América Portuguesa e depois do Brasil é uma construção progressiva que se desdobra ao longo do período moderno e na época contemporânea. A elaboração de formas de organização política próprias em um contexto colonial e depois de independência, e de formas sociais em grande parte determinadas pela questão das relações raciais torna essa perspectiva indispensável. A história, incluindo a história da filosofia, é necessária para a compreensão dos fenômenos contemporâneos, dos quais também permite restituir toda a complexidade. Os trabalhos contribuirão, assim, para a historicização da globalização e para uma melhor compreensão dos desafios contemporâneos dos Mundos em Transição (por exemplo, o papel dos BRICS ou os desafios da polarização política com as esquerdas que emergiram na América Latina após o fim dos regimes militares e, mais recentemente, o crescimento da extrema direita).
Ultrapassando qualquer nacionalismo metodológico, os trabalhos revelarão a permeabilidade dos Estados-nação, com fronteiras precárias, que são atravessadas, ou até mesmo contornadas, por múltiplas trocas e mobilidades. As circulações podem ser consideradas em suas diferentes dimensões, sejam materiais, sejam imateriais, o que permite um diálogo com várias áreas do saber (geografia, economia, história, filosofia, sociologia, literatura, etc.). Do ponto de vista metodológico, este eixo permitirá um diálogo interdisciplinar em torno de conceitos-chave para todas as ciências humanas e sociais: troca, transferência, apropriação, rejeição, assimetria, nação, hegemonia, poder, etc. Também se concentrarão em medir as hegemonias culturais existentes.
Em conexão com o eixo 2, as pesquisas conduzidas no eixo 1 cruzarão necessariamente as questões de identidade e patrimônio, a reflexão sobre as margens e periferias do projeto da nação brasileira (populações indígenas, afrodescendentes, relação com a escravidão, diferentes religiões, relações interétnicas e interraciais, gênero, ações afirmativas) e a questão da violência. A diplomacia cultural ou científica também será um objeto de estudo pertinente para analisar os fenômenos circulatórios. Os trabalhos poderão, por exemplo, se dedicar a identificar as influências cruzadas entre a França e o Brasil: a presença francesa na construção da nação brasileira e da democracia ou na política educacional brasileira (construção de universidades, colégios, estruturação de disciplinas, importações e doações de livros…), promoção da francofonia, intercâmbios intelectuais ou econômicos, papel das sociedades científicas e dos congressos internacionais. As mudanças provocadas pelas novas tecnologias, no passado (barcos a vapor, ferrovias, boom da imprensa, constituição da esfera pública, primeira industrialização e fluxos migratórios entre a Europa e as Américas), assim como no presente (digitalização, inteligência artificial), deverão ser levadas em conta, bem como a forma como são “transformadas em políticas públicas” (em temas tão diferentes como dinâmicas urbanas, hospitalidade, xenofobia, ciência aberta ou a expansão de redes criminosas transnacionais, por exemplo, incluindo tentativas de regulação) ou utilizadas por mobilizações cidadãs (por exemplo, em relação a leis trabalhistas, democracia, clima).
As pesquisas também se interessarão pelos diálogos entre saberes acadêmicos e saberes ditos “tradicionais”, diálogos que são estabelecidos de maneira muito diferente na França e no Brasil. Nesse sentido, ao longo dos séculos 19 e 20 o Brasil foi palco de movimentos ideológicos, políticos e até armados que tentaram resolver a impossível equação entre diversidade cultural e unidade política. Em cada caso, a antropologia foi convocada nos debates políticos e intelectuais, sejam as falas acadêmicas ou militantes. Nesse contexto, parece particularmente importante prestar uma atenção cuidadosa à genealogia e às circulações dos saberes antropológicos dentro e fora da disciplina acadêmica, à sua mobilização em contextos políticos, identitários, religiosos e artísticos. Para isso, os fenômenos de apropriação, distanciamento e transformação das práticas e do saber antropológico pelas comunidades (indígenas, afrodescendentes, etc.) em seu trabalho identitário e reivindicações, assim como as relações complexas entre saberes antropológicos e saberes indígenas são particularmente atuais. A esse respeito, em conexão com o eixo 2, parece oportuno investigar especialmente o empoderamento daqueles que foram outrora definidos como “objetos” de pesquisa, a saber, os “indígenas”, os quilombolas, os favelados, os líderes comunitários e religiosos que, no Brasil, estão cada vez mais presentes na universidade, graças às políticas de “ação afirmativa”. Isso pode ser associado aos muitos trabalhos sobre a agency dos subalternos, que mostraram como levantes, revoltas e resistências — inclusive violentas — são antigos e estruturantes na sociedade brasileira.ee
Quanto às migrações de pessoas, as circulações devem ser compreendidas em função de diferentes tipos de movimentos, dependendo das escalas geográficas e temporais. Se qualificamos as migrações como movimentos de longa distância e de longo prazo, notamos que o Brasil agora é afetado por migrações regionais provenientes de seus vizinhos (Venezuela, Bolívia), que influenciam sua abordagem sobre essa questão, mas também por circulações migratórias mais complexas, que servem de trampolim para os Estados Unidos e a Europa para populações oriundas do Oriente Médio, África, Ásia ou Caribe. Os fluxos mais numerosos, que chegaram entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, estão diminuindo, dando lugar, dependendo dos períodos e das rotas migratórias, a outros grupos, outras motivações, outros percursos. Se nos interessamos pelos movimentos de curta distância e em intervalos de tempo mais curtos, a questão das mobilidades (diárias, sazonais, de lazer, de estudo ou de trabalho) também deve ser levada em conta. Por fim, em alguns domínios, o conceito de circulação permitiu evidenciar a ausência de ruptura entre a partida e a chegada, ou até movimentos de vai-e-vem que vêm modificar, mas não necessariamente destruir, as estruturas sociais. Esses fenômenos devem ser evidenciados e explicados. A geografia pode aqui fornecer a cartografia que poderia desempenhar o papel de plataforma para produzir observações objetivas, que podem ser interpretadas por todas as outras ciências sociais. Colocar o foco nas temporalidades migratórias também permite compreender melhor as formas migratórias e, principalmente, a ideia de “transição” (temporalidades longas, curtas, múltiplas, multigeracionais, retornos, movimentos pendulares…). Até onde a migração é “transitória”, a partir de quando é “definitiva”? O que é uma migração de curta duração (estadas de artistas, turistas), de longa duração (exílio, inserção duradoura, enraizamento)? E como pensar as transições segundo essas diferentes temporalidades? Essas questões permitem cruzar a geografia com uma dimensão histórica mais densa e evitar, assim, o risco de um “mosaico” sem verticalidade temporal histórica nem biográfica, relacionada aos percursos individuais e coletivos, ou geracional, vinculada às temporalidades migratórias de um grupo (étnico, político, familiar ou profissional).
As pesquisas realizadas no eixo 1 poderiam ser valorizadas pela constituição de bases de dados, publicação de atlas ou enciclopédias (como o projeto de enciclopédia digital Ciências e Culturas França-Brasil [1889-1985]ou a plataforma TRACS [para Culturas Transatlânticas. Histórias Culturais do Mundo Atlântico (séculos XVIII-XXI)] ou o projeto Globalcar (ANR-FAPESP). Locais por excelência de cooperação entre ciências humanas e sociais, ciências da computação e ciências digitais, mobilizarão as ferramentas e suportes digitais (projeto Hital Bérose, dedicado à História da Antropologia na América Latina).
Vejam os outros temas do nosso projeto cientifico:
